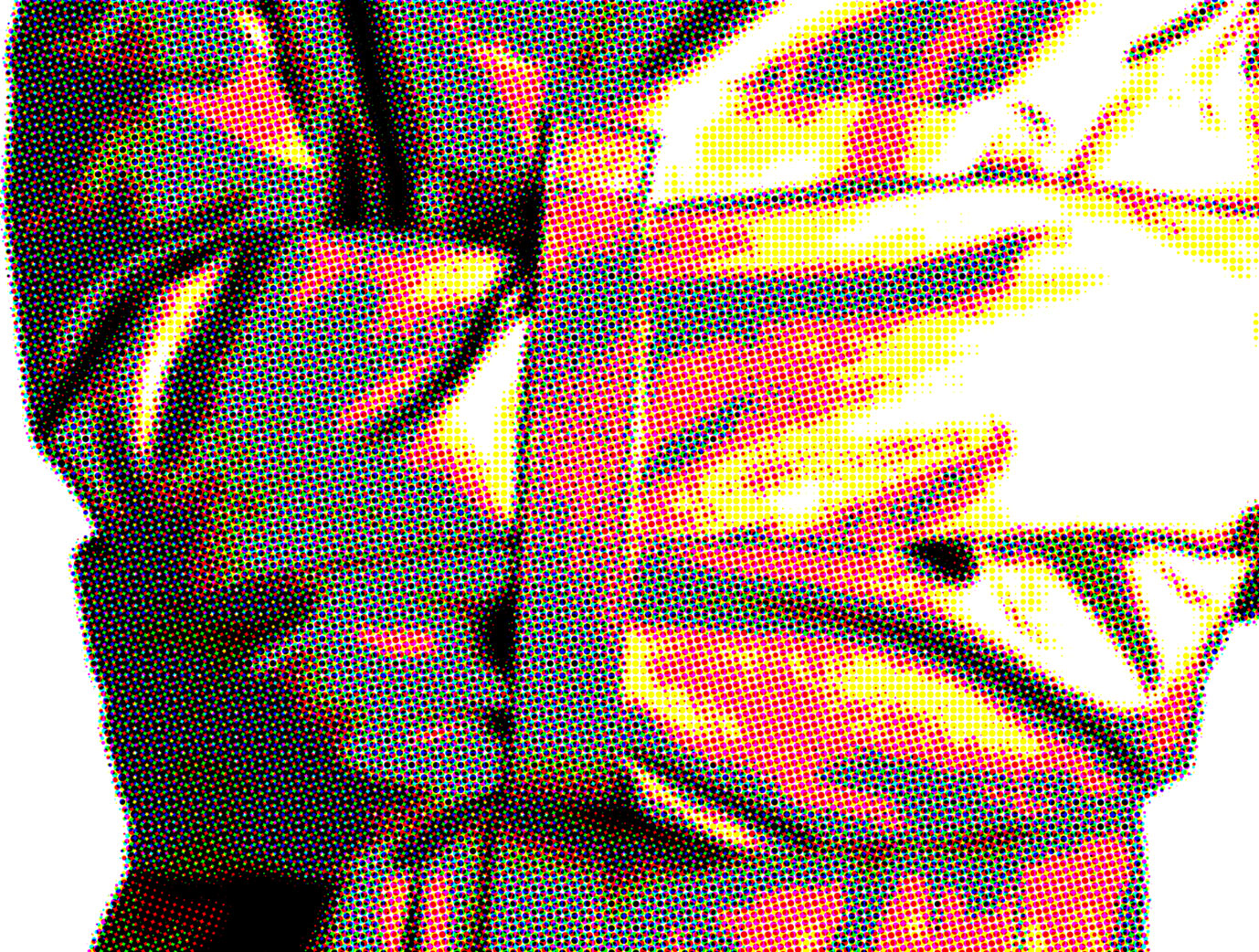 Foto Editora Abril
Foto Editora Abril
Prossigo no tema da semana passada – a cultura e seus protagonistas – mesmo porque se trata de mina inesgotável e, como em outras partes do mundo teve no Brasil difusos e problemáticos óbices, muitos deles altamente prejudiciais ao desenvolvimento e transformação dessa ilustração civilizatória num ganho social coletivo.
Vou me valer do oportuníssimo livro de Carlos Guilherme Mota, Educação, contraideologia e cultura, desafios e perspectivas (Editora Globo, RJ, 2011), que contém os textos mais instigantes escritos pelo professor de história aposentado da USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie (SP), além de professor visitante nas universidades de Londres, Texas, Salamanca e Stanford, afinal, um currículo acadêmico de fazer inveja.
Os textos de Carlos Guilherme foram escritos a partir dos anos 70, e por razões elementares inspirados pelo sistema educacional excludente da época e oligarquias dominantes nas maiores universidades autárquicas, com os evidentes reflexos sobre a cultura e educação da sociedade civil.
Num painel que se estende até o período atual, é compreensível a dificuldade de transpor para uma reflexão de poucos parágrafos um retrato completo do trabalho intelectual desenvolvido pelo historiador. Fica, então, a dica aos interessados na temática cultural (sei que são muitos) que procurem o livro em questão nas bancas da área central, enquanto durar a promoção.
Não pretendo encarnar personalidade derrotista, mas apenas lembrar que o livro, assim como outros também importantes, está sendo vendido a minguados dez reais, talvez, numa comprovação de quanto vale — efetivamente — a cultura nesse país.
Num dos ensaios de época, Mota revela que “o estudioso brasileiro de história contemporânea, preocupado com a modelagem das tendências mundiais de longo alcance, terá razões de sobra para se preocupar com os anos 1980”, à vista “do processo histórico que é dado observar e que vem do reformismo desenvolvimentista e populista dos anos 1950, pouco apto a enfrentar politicamente o militarismo dos anos 1960, desembocou nos anos 1970 num sofisticado modelo de exclusão cultural montado lenta e gradualmente”.
A referida fase, escreveu, foi marcada por “iniciativas educacionais tipo MEC-Usaid” que vieram a destruir incipientes linhas de trabalho que então se estruturavam: “A Universidade de Brasília, a experiência de alfabetização de Paulo Freire e os ensaios de ação cultural, as faculdades de filosofia como núcleo de organização universitária etc”.
No campo das ciências humanas, lembra o historiador, os chamados estudos sociais começaram a ser difundidos com a finalidade de substituir o potencial crítico das antigas disciplinas do homem (sociologia, história, geografia etc) no ensino médio e superior. Mota viu nisso “uma verdadeira camisa de força”.
Contudo, citou um ponto positivo num cenário eivado de maniqueísmos minuciosamente engendrados: “É bem verdade que os brazilianists surgiram quais novos heróis civilizadores: em meio ao debruçamento geral da potência hegemônica, vieram mostrar à dormente consciência pública que não era pecado acadêmico estudar a história da República”.
Eram os tempos do “milagre econômico”, mas ele também passou. Carlos Guilherme lembra que o episódio “deixou um pesado modelo de exclusão cultural que, sob a égide do AI-5, pôde eliminar os divergentes e apagar até mesmo a ideia histórica da desobediência civil, criando um quadro cultural de cooptação necessário numa era de capitalismo associado. Nesse quadro, soterraram-se as condições para a emergência de uma burguesia nacional e de partidos liberais e nacionais, bem como de partidos que sejam expressão do mundo do trabalho. O sistema cultural viu crescer em seu interior o fenômeno conhecido por ‘mobralização’ do saber, com a formação pré-política de quadros de semicidadãos”.
A constatação generalizada é que se nos anos 70 as questões da cultura foram quase sempre enquadradas como casos de polícia, na década seguinte já orbitavam a esfera política, muito embora o problema maior se localizasse no ensino público, segundo Carlos Guilherme “o nervo central de qualquer projeto de democracia”.
A data desse escrito remonta a 1978 referindo-se o autor aos 15 anos decorridos do golpe de 64: “A deterioração profissional sofrida nos últimos três lustros, a maior da história da República, encontrará uma nova geração de pedagogos absolutamente aptos a equacioná-la, restaurando os antigos nexos entre os níveis de ensino médio e superior. Uma política eficiente do Estado permitirá atacar de rijo o problema básico da formação da cidadania, devolvendo à escola pública o papel de formar uma sociedade altamente politizada. A metodologia de alfabetização progressista será retomada, afastados os exorcizadores dos fantasmas da ‘subversão’ que lançaram o país no mais negro obscurantismo. Por seu turno, a parafernália dos cursos supletivos, dos cursinhos, das ‘faculdades de pós-graduação’ etc. será revista, conduzindo-se o ensino público aos caminhos que vinham sendo trilhados nos fins dos anos 1950”.
Não faz muito tempo o também historiador uspiano, Boris Fausto, declarava em entrevista ao programa Roda Viva – o melhor da televisão brasileira – que o compromisso primordial do historiador é com o passado. Futuro é matéria de cientista político, disse com certa ironia o autor de História do Brasil. Sem desmerecer absolutamente o brilhante raciocínio de Carlos Guilherme Mota que, aliás, transparecia muito mais um arraigado senso de brasilidade, resta lamentar que pouca coisa (ou quase nada) aconteceu de bom no ensino público do país.
O historiador não teve medo de apostar fichas preciosas de sua visão idealista em que a política educacional adventícia “não será apenas uma dádiva de algum governo bonapartista bafejado pelas luzes de eventual despotismo esclarecido periférico; resultará, antes, de uma autêntica e vigorosa pressão social e política de segmentos organizados da sociedade civil”.
Com a chegada da Nova República, em 1986, e a criação do Ministério da Cultura (MinC), que Carlos Guilherme Mota considerou “uma das fabricações mais controvertidas” do então presidente Tancredo Neves, pelo menos houve um alento com a indicação do economista Celso Furtado para a chefia da área. O historiador opinava que a indicação era o sinal de que se retemperavam “as esperanças dos que imaginavam poder o Brasil tornar-se um dia uma nação moderna”.
Dentre as credenciais do ministro, Mota asseverava se tratar ”de alguém com estatura de estadista, preocupado intensamente com a questão nacional e, desde os fins dos anos 1960, com a questão da cultura”.
As boas intenções, muitas vezes são engolfadas pelo tempo e espaço e, apesar da esperança reavivada numa gestão iluminista da cultura brasileira a frustração continuou. Mota logo percebeu que “não há fabricação ideológica que cimente a arquitetura dessa novíssima República”, lembrando o desafio histórico-cultural assumido por Furtado na transformação da pasta “que é essencialmente de crítica ideológica e não deve servir de biombo, nem ser manipulada para reduzir uma sociedade de 130 milhões de pessoas a um mercado de 30 ou 40 milhões, num processo ‘cultural’ embrutecedor, que arredonda as diferenças, ‘disfarça a favela e esconde as coisas’, como denunciava Oduvaldo Viana Filho em 1974”.
Em outras palavras, Carlos Guilherme Mota, nesse ponto de vista acompanhado por uma legião de brasileiros de boa vontade, esperava que a chegada de Celso Furtado ao MinC de fato estimulasse a formação de uma nova sociedade e a luta pela efetiva nacionalização do controle da economia, pondo fim a “esse aglomerado de súditos contribuintes sem voz nem vez, transformando-os em cidadãos”. Não deu pé…
Anos mais tarde, no final dos 90, Mota deduzia que “não somos ainda uma nação, pois não sabemos quem somos, nem aprendemos a pensar em longo prazo”, salientando que “tampouco a esquerda vem sabendo escoimar os vícios do clientelismo, do sectarismo e do fisiologismo que combatia na ditadura, e aqui refiro-me diretamente ao PMDB, ao PT e ao PDT. Pior que isso, algumas lideranças vem beirando o pitoresco!”.
Coisas tristes se amontoaram no plano da cultura institucionalizada, como a mediocrização das universidades, salvo umas poucas federais, que resistiram e continuam lutando bravamente pela requalificação das bibliotecas e dos serviços de preservação da memória cultural, dos centros de pesquisa e produção científica: “A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ou a Biblioteca Municipal de São Paulo não lograram acompanhar o tempo de suas congêneres dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra ou da Alemanha. Bem ao contrário, são hoje pálidas sombras dos tempos de diretores escritores como Sérgio Milliet, Sérgio Buarque de Holanda, José Honório Rodrigues e Rodrigo de Mello Franco”.
Há ainda muito a navegar nesse longo rio corrente…

